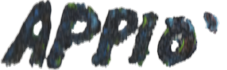
LITERATURA
VIVI, VI, OU ME CONTARAM…- Cap. 1 – Do jornal para o cinema
Não tinha ainda nem completado os 14 anos e já tinha começado a trabalhar. Naquele tempo, 1959, adolescente trabalhar não era crime. Era o comum. Tinha entrado na primeira série do ginásio, depois de passar pelo exame de admissão, e queria ganhar meu dinheiro para pagar a escola.
Consegui. Fui levado por um colega de classe do primeiro ano do ginasial – o saudoso Chico Milan – um pouco mais velho que eu. Chico trabalhava no jornal Correio Paulistano, este também já falecido.
Como ele arranjado um emprego melhor se ofereceu para me apresentar para substituí-lo no “cargo” de Office-boy da redação. Fui com ele ser apresentado Secretário da Redação, que me “entrevistou” se é que aquela conversa poderia se chamada de entrevista.
Só sei que poucos dias depois eu já estava trabalhando. Nenhum mérito meu. É que o Chico se mandou do jornal. E o Secretário da Redação, o Sr. Péricles do Amaral, me rebatizou: “periquito”. Dois eu soube: mudavam os Office-boys, mas o nome continuava o mesmo. O Sr. Péricles chamava todos os Office-boys que passavam pela redação por “periquito”. E não tinha como evitar.
A partir de 6 de fevereiro de 1959, e por meses, todas as tardes eu as passava na redação do já velho Correio Paulistano, que fica num casarão da Libero Badaró bem próximo do Largo São Bento. O prédio não existe mais. No lugar há um edifício com fachada de concreto e um jardim sobre estação do Metro.
Mas o prédio do velho jornal era uma construção de vários andares – certamente uma audácia para a época em que fora construído – acho que ainda no século XIX – para mim muito velho tal o estado de (má) conservação. O jornal já tinha completado cem anos, isso eu sabia. E para mim parecia que não tinham mudado nada. O térreo, que ficava na Rua Líbero Badaró, era um espaço aberto onde algumas divisórias demarcavam o departamento comercial, a administração, o departamento do pessoal chefiado pelo “seo” Ferreirinha. E comandados todos pelo temível Diretor Comercial e Administrativo, o Sr. Julio Scatimburgo.
No primeiro andar, na frente ficava sala do Diretor do Jornal, o Dr. João, Dr. João de Scatimburgo, e sua secretária, a Dona Mafalda. Ela parecia tão antiga que, em pensamento e só em pensamento é claro, eu dizia pra mim mesmo que ela devia ter sido secretária do fundador.
Mais para o fundo, na seqüência do corredor ficavam as salas do Diretor de Redação, Sr. Nabor Cayres de Brito, a do Secretário da Redação – Sr. Péricles do Amaral. E no fim do corredor uma sala grande, que era a redação propriamente dita, onde ficava o chefe de Reportagem – Caiuby de Oliveira, e todos os redatores.
Várias mesas, cada qual com uma máquina de escrever diferente. Elas eram marteladas pelos redatores criando um ruído de atividade e vigor que o jornal, na verdade, já não tinha mais.
Esses homens e mulheres foram para mim tipos inesquecíveis. E vários fatos curiosos ainda vou pra contar.
Um desses redatores fazia crítica de teatro.
Era um jovem senhor (para mim, com 13 anos) não muito mais de 40 anos. Magrinho, esguio, sempre bem vestido, tinha os olhos miúdos que pareciam estar atentos a tudo. Eu achava que ele parecia o cantor Joel de Almeida. Ele escrevia rápido. Era ágil. Sua testa era alta – mas não era calvo. Seus cabelos pareciam começar no alto do crânio, tipo Maria Bethania, mas sempre bem penteados, esticadinhos, tratados a Gomalina ou Glostora. Tinha um nariz respeitável, o que contrastava com seu bigodinho, fininho.
Eu não sabia – santa ignorância de pré-adolescente – que ele era um respeitado critico de teatro, dramaturgo e dos mais importantes diretores teatrais do Brasil. Mas, para mim ele era apenas o “seo” Miroel, Miroel Silveira, redator que escrevia sobre arte. Muito educado e gentil.
Pois numa dessas tardes na redação do Correio Paulistano, o seu Miroel vira pra mim e pergunta a queima roupa:
—“Periquito”, quanto Você ganha aqui? (o apelido tinha pegado, não tinha jeito)’
Meio assustado, respondi: —“setecentos e cinqüenta por quinzena, mil e quinhentos por mês”.
—“Quer ganhar o dobro?… mais que o dobro?“
—-“Sim, claro que sim”. Afinal, quem poderia não querer. Mas por dentro eu tremi de medo com a minha própria resposta e com a conseqüência que ela poderia me trazer.
—“Eu tenho um amigo que tem uma produtora e me pediu para recomendar alguém que ele está precisando”, explicou.
Eu devo ter ficado com cara de mula hipnotizada. Como seria esse amigo? O que seria uma produtora? O que seria o trabalho? Mas três mil e quinhentos perto dos mil e quinhentos que eu ganhava era forte demais pra eu perguntar qualquer coisa.
O seo Miroel com um puxão tirou a folha de papel-jornal da máquina, fez algumas correções com a caneta e como se fosse a coisa mais natural do mundo, virou pra mim e disse:
— Então vamos!
—Como? O que eu faço agora? Pensei atônito, com aquela situação inusitada.
—Ué, Você não quer? Então, pega o paletó e vamos!
E fui.
Aquilo não foi um convite. Pra mim soou como uma ordem. Disparei atrás dele, pulando os degraus daquela escada de madeira barulhenta, que rangia mais que barco velho.
Meu coração batia tão rápido e forte que eu o sentia no pescoço. E não era o esforço da corrida. Era o pavor, a insegurança, era o medo do desconhecido.
Não me lembro bem, mas acho que fomos de taxi, pois em poucos minutos já estávamos na Rua Martinho Prado, esquina com a Rua Augusta, num edifício que está lá até hoje. O numero é ainda o 209, e para mim curioso, pois o prédio era todo residencial e somente a sobreloja era comercial.
E lá fui apresentado a uma “produtora”. Uma produtora de filmes. A ”Produções Cinematográficas Ricardo Malheiros”. A minha frente, ou melhor, eu diante do próprio Ricardo Malheiros. Minha segunda entrevista de emprego, sendo entrevistado pelo dono.
Não me lembro, mas devo ter gaguejado até para dizer meu nome. Da “entrevista” mesmo pouco lembro. Devo ter respondido todas as perguntas e não devo ter dito nenhuma besteira. Só me lembro que disse que só sairia do jornal depois que eles arrumassem alguém pro meu lugar, pois não poderia deixá-los na mão (que importante que eu me achava!).
O Sr. Miroel devia ter muito prestígio, mesmo. Pois fui contratado na hora e com o tempo necessário para me desligar do jornal. E para ser “assistente” do “seo” Ricardo Malheiros.
Junto com a satisfação e a alegria de poder ganhar mais, mais que o dobro, pois me ofereceram 3.500 cruzeiros, uma coisa me deixava ainda meio apavorado: o que um assistente tinha que saber e fazer?
Poucos dias depois eu já estava trabalhando na produtora. E a Produtora nada mais era do que o escritório do Sr, Ricardo Malheiros, com várias salas. Sem ninguém. E eu era o seu “assistente”. E rápido descobri que ser assistente era fazer o que ele pedia: pagar conta no banco, buscar encomenda, datilografar uma carta, levar lata de filme pro laboratório, atender telefones, anotar recados e outras coisas altamente importantes como essas.
O Sr. Ricardo Malheiros era um senhor (para mim já era um senhor), alto, cabelos ralos, grisalhos e lisos sempre penteados para trás, de uma elegância impressionante. Elegância no trajar, elegância nos modos, elegância no falar. Ele me parecia o modelo perfeito de um lord (inglês, evidentemente). Todos os personagens de filmes que vira e a descrição que lera em livros, principalmente do Sherlock Holmes, estavam personificados naquele homem.
Ele era realmente um tipo inesquecível. Tanto que me lembro até hoje da elegância de seus ternos e blasers de lã ou casimira, suas camisas de panamá, as gravatas crochê, sapatos de camurça ou cromo. A tal ponto conservei a admiração por sua elegância que, muitos anos depois, pude pedir ao Guido – o alfaiate que me vestiu por mais de 40 aos – a me fazer aquele terno de lã príncipe de Gales, o Pascarelli a me fazer uma camisa panamá de um verde bem clarinho, e o Ravidá a me fazer o sapato de camurça marrom.
Foi indo buscar as encomendas do “seo” Ricardo que descobri que ele comprava as roupas na loja Mozano, que ficava na esquina da São João com a Ipiranga, e os sapatos na Dante, que ficava na Rua Marconi, ao lado da Old England e da doceira Cristalo. Mas isso não importa.
Mas toda a elegância do “seo” Ricardo contrastava com outra característica marcante: ele era português, e falava com um sotaque tão forte que eu tinha uma enorme dificuldade de entender direito. Seu português era arrastado mesmo e ainda por cima tinha uma leve gagueira.
Depois é que soube que Ricardo Malheiros fora ator, diretor, escritor e produtor de cinema, com mais de 30 filmes (dos quais eu acabei trabalhando em dois), produzidos na Europa, na África e na Ásia e que participou de movimentos de renovação da arte em Portugal.
Mas o que me propus a contar é o que vivi e o meu primeiro contato com o filme.
Logo após algumas semanas eu ter começado a trabalhar na Produtora, o “seo” Ricardo me avisou que teria de viajar e deveria ficar por lá uns dias, pedindo-me que cuidasse das coisas – mantivesse tudo arrumado, anotasse todos os recados, enfim, que eu cuidasse do escritório.
Eu me senti ao mesmo tempo inseguro e orgulhoso. Afinal, eu não tinha feito ainda 14 anos e ele me deixava sozinho. E tomando conta?!
Achei que tinha de caprichar. Ia cuidar de tudo da melhor maneira possível. O escritório tinha umas quatro ou cinco salas. Passei pano em todas as mesas e cadeiras, limpei tudo como tinha aprendido em casa, e no fim do primeiro dia não tinha mais nada para arrumar.
No segundo dia sozinho eu não tinha o que fazer. Estava tudo arrumado. Só não tinha arrumado era a sala em que ficavam as latas de filmes.
Era uma sala que devia ter uns 20 metros quadrados, e (curioso) não tinha janela ou se tinha era talvez uma basculante e no alto. Pouco importa. Ocupando toda a parede maior havia uma prateleira de madeira. Era uma prateleira diferente, pois não tinha prateleira propriamente dita.
Ao invés de prateleiras essa e (melhor chamando) “estante” era na verdade uma armação. Sarrafos iam do chão até quase o teto, fazendo a função de colunas. E mais ou menos a cada 40 centímetros, na horizontal, corriam duas ripas grossas, paralelas, uma na frente e outra atrás, quase junto à parede.
Sobre essas ripas estavam colocadas as latas de filmes. Como eram filmes de 35 mm, essas latas eram redondas, como latas de goiabada, só que com mais ou menos 40 cm de diâmetro por uns quatro ou cinco cm de espessura.
Era o arquivo da produtora, ou seja, as cópias e/ou copiões dos filmes que ela havia produzido nos vários anos. Não havia negativos, porque era a prática deixá-los no laboratório, pois tinham de ficar em ambiente especial – temperatura e umidade controladas. Graças a Deus!
Depois de ter repassado a arrumação de todas as salas, mesas e móveis, não tendo mais o que fazer, resolveu limpar as latas de filmes que estavam empoeiradas. E aproveitava para ler o que estava escrito nas etiquetas das latas ”Aves de arribação”, “Terra do santo nome de Deus” e assim por diante.
Quando, empoleirado para pegar uma lata da prateleira mais alta, a lei da física falou mais alto: com meu peso na frete, o armário se inclinou para frente, e como as latas de filmes eram redondas, começaram a vir pra frente e cair.
Eu não sabia se segurava as latas que caiam, se segurava o armário, ou se me segurava. S[o sei que evitei que o armário todo caísse. Mas não evitei que umas vinte latas de filmes desabassem no chão.
E o mais trágico, cada uma que batia no chão, se abria. E o filme que estava dentro, enrolado, pulava fora e ao bater se desenrolava como serpentina. Em poucos segundos o chão da sala ficou literalmente coberto de espirais de filmes, todos misturados, todos enredados. Acho que caos é a palavra mais suave para designar.
Sentia meu coração bater na garganta, nos tímpanos. Por segundos, que me pareceram uma eternidade, fiquei parado, imóvel, vendo algumas tiras ainda se moverem e se acomodarem.
Não podia me mexer e andar, pois os filmes são delicados, e pressionados se partem. Sabia da delicadeza, pois j[a tinha visto usarem luvas de flanela brancas para manipularem. E sabia onde estavam. Por analogia, pendei: se para por as mãos nos filmes era preciso usar uma luva, logo o negócio era tirar os sapatos, ficar só de meias, e ir arrastando os pés suavemente, para evitar amassar as películas.
Se estou escrevendo é e porque estou vivo. E só estou vivo é porque passsei mais de três ou quatro dias, de manhã, de tarde e de noite, pondo aquela bagunça em ordem. Achar a ponto do primeiro filme deve ter levado horas. E depois de achada a ponta de cada um, ir desenroscando, soltando, indo e voltando.
Pior de tudo era a expectativa da porta do escritório se abrir e o Seu Ricardo aparecer.
Seria morte certa.
- Do jornal para o cinema:
Outras postagens